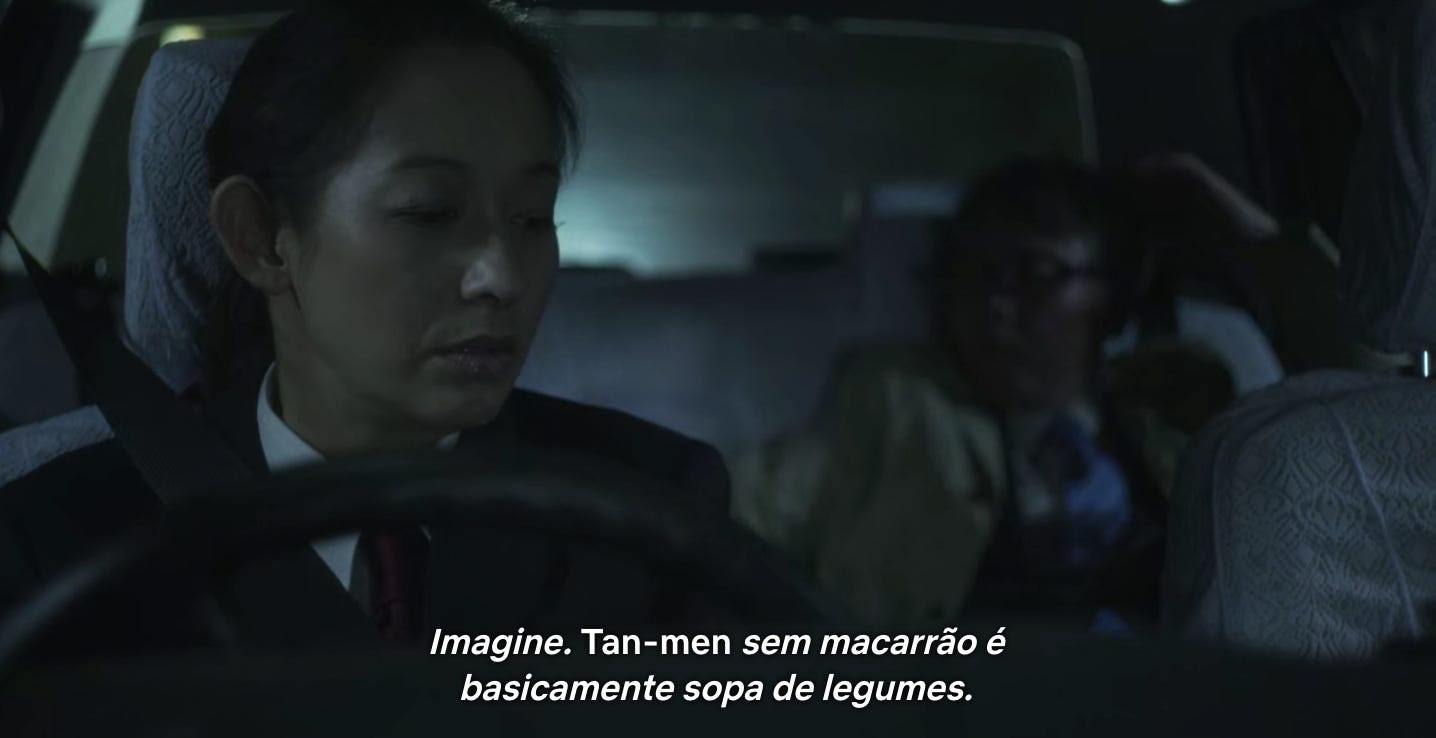click here to read this piece in English
[mas antes]
Preciso ser sincera: novembro foi um mês ruim, produtivamente falando. Dediquei menos tempo à newsletter por preferir tardes na grama do parque, idas ao cinema, drinks e cafés com amigos, e alguns dias junto da minha afilhada recém-nascida. Para dezembro, quero continuar a bater perna, desligar o celular, conversar cara a cara com as pessoas pra ver se tudo isso não relaxa a minha mandíbula e alivia minha dor nas costas.
Certa de sua compreensão,
– Flávia.
PS: mantenha a fogo baixo circulando!
[⚠️ aviso: esta edição contém links afiliados, o que significa que eu recebo uma pequena comissão caso você compre o livro indicado 🙃]
A COMIDA DO OUTRO
um comentário sobre como encaramos o exótico
Num balcão em forma de U, o cozinheiro tira pedidos e serve os clientes todas as noites entre a meia-noite e 6h. O salão retangular contém o espaço da cozinha, que fica aos fundos e toma metade da planta, e o bar, instalado na parte côncava do balcão. Poucos passos separam as banquetas da porta de entrada, espaço usado pelos clientes para tirar o casaco e pendurá-lo em um dos cabides dispostos nas paredes. Depois, sentam-se enquanto pedem o de sempre e olham ao redor para conferir quem está lá naquela noite.
São pessoas em intervalo de trabalho ou encerrando sua jornada – alguns estão jantando depois de uma noite de farra. Entre o papo furado, suspiros de quem se delicia e os chiados da fritura e da borbulha, o cozinheiro ouve revelações ditas apenas em uma mesa de bar.
Este salão e seus habitués são o ponto de partida das curtas histórias do seriado Midnight Diner: Tokyo Stories, disponível na Netflix e do qual eu assisti apenas dois episódios. O título do primeiro episódio é Lámen e começa com o preparo de tan-men, um tipo de sopa de macarrão com legumes e carne de porco da região de Kanto, onde fica Tóquio. O seriado mostra o preparo do prato desde o início. A frigideira recebe fatias do que parece ser barriga suína, e depois uma série de legumes: cenoura, acelga, nirá e broto de feijão. Um caldo claro é adicionado – aqui diz que é comum usar caldo de galinha – e na sequência, o cozinheiro despeja tudo sobre um macarrão já cozido em uma cumbuca.
Na cena seguinte, dois conhecidos conversam sobre preferir tomar tan-men à noite por ser "mais leve que rámen", quando chega uma taxista para jantar. Eles param de conversar ao ouvir a recém-chegada: "um tan-men. Sem macarrão, por favor". Os conhecidos entreolham-se, um pouco maldosos. "Tan-men sem macarrão é basicamente sopa de legumes", zomba um deles mais tarde, em seu programa de rádio.
O estranhamento do radialista é o sinal para o caminho óbvio que o roteiro tomará – o episódio termina com ambos pedindo um tan-men sem macarrão –, e prova que a verdadeira ordem para a frase "não conheço porque não gosto" é a sua inversão: "não gosto porque não conheço". Ver um prato do qual gostamos sendo "descaracterizado" mexe com nossos brios.
Temos as nossas normas e medimos as escolhas dos outros pela própria régua, focando nas diferenças que duas coisas parecidas têm, mais do que em suas similaridades.
Atire o primeiro guardanapo quem nunca torceu o nariz para a idiossincrasia culinária do outro – o ketchup na pizza, o queijo ralado no yakisoba, o espaguete cortado. Reagimos mal, mesmo que esses pratos não sejam os da nossa memória afetiva, como se algo sagrado tivesse sido profanado.
E é por aí mesmo. A comida é um código construído historicamente pelas ações de um grupo em um determinado ambiente. São parte desse repertório social escolher o que comer de acordo com o que há disponível; prepará-lo de acordo com os conhecimentos acumulados e passados de geração a geração; servi-lo de acordo com os sentidos e importância dados a ingredientes e modos de preparo. Se nos desviarmos desse código coletivo, podemos gerar ruptura e incômodo ao grupo (daí também a implicância que há com o vegetarianismo, do qual não vou falar dessa vez).
Comer à mesma mesa com alguém que rompe as regras, como os dois comensais no pequeno restaurante japonês, atrai olhares tortos e curiosidade ostensiva. Dá pra dizer que é um incômodo de baixo contraste. Agora pense em acentuá-lo: pense em comer de acordo com as suas regras, mas às vistas de um grupo que segue outras.
Vamos distanciar o olhar do prato de modo que a nossa própria comida consiga ser olhada como a comida do outro – outro povo, outra cultura, outras regras. Vou usar como exemplo o ingrediente máximo da discórdia, a carne, para fins didáticos, mas é possível fazer o mesmo paralelo com insetos, frutas, técnicas de preparo de um ingrediente comum a várias culturas, etc.
A carne bovina é uma especialidade do povo brasileiro. Conhecido pela extensão de terras e por produzir milhões de cabeças de gado para o mercado externo, o Brasil tem no churrasco dos finais de semana e feriados o símbolo máximo do lazer caseiro.
O churrasco é feito com diferentes tipos de cortes de carne de boi, como o dorso ou a traseira do animal, temperados apenas com sal grosso ou uma marinada, cuja receita muda de família para família. As peças são assadas em um espeto ou grelha sobre fogo controlado geralmente pelos homens da casa, os churrasqueiros, e as sobras de carne são usadas para o preparo do prato carreteiro no dia seguinte.
O rebanho brasileiro é um dos maiores do mundo, superando até mesmo a população do país: são 218,2 milhões de cabeças de gado e 212,6 milhões de brasileiros no mesmo território. O mercado interno consome boa parte da produção de carne bovina e entre 20 e 30% é exportada e seu principal destino é a China.
As carnes também podem ser preparadas como picadinho, espécie de guisado de cocção lenta, servido com arroz ou purê de batatas, como bifes acebolados feitos em frigideira ou como base para sopas e carne de panela. Nem todas as partes do boi são comidas: os brasileiros preferem deixar de lado os miúdos e investir em cortes mais macios, como mignon e picanha, ou gordurosos, como costela, deixando de lado pescoço, peito e músculo, se puderem.
O texto acima é uma generalização, que eu aposto que você leu meneando a cabeça, pronto para incluir vários parênteses nas afirmações que fiz e acrescentar muitos parágrafos para (tentar) dar conta da variedade de cortes, hábitos e receitas de acordo com classe social, região do país e outros recortes. Para quem mora em um país cujo sistema alimentar é radicalmente diferente do brasileiro, no entanto, esse resumo poderia ser uma introdução satisfatória ao tema.
Em um exercício de imaginação, penso em algumas questões que poderiam surgir nesse leitor que desconhece o universo apresentado no texto: por que há mais cabeças de gado que pessoas no país, se a maior parte da carne é de consumo interno? Se um boi é um animal grande o suficiente para render muitas refeições por família, por que esse rebanho é tão volumoso? Por que as mulheres não são igualmente responsáveis pelo preparo do churrasco? Quais os preparos com os miúdos e por que não são valorizados? Por que os brasileiros preferem carne de boi à de outros bichos?
Até aqui, acredito que eu tenha elencado dúvidas legítimas, que abririam espaço para discussões que ampliam o entendimento do significado da carne bovina para o brasileiro. Junto com dúvidas, no entanto, poderiam vir, indiretamente, julgamentos de valor. Mais um exercício de imaginação aqui: por que preparar a carne na brasa quando há tantas maneiras de enriquecer o preparo desse ingrediente nobre? Por que temperar apenas com sal grosso?
Em determinados momentos e lugares do mundo, poderia ser considerado primitivo e até tosco preparar a carne, por exemplo, em fogo de chão, usando apenas sal. Poderia ser apontada a falta de higiene, a falta de conhecimento avançado em técnicas culinárias, e o modo de servir, uma incivilidade.
Comida é contexto, e o julgamento desses alimentos por quem os vê de fora terá pesos diferentes, dependendo quem aponta e quem é apontado. Para culturas que há séculos têm sido retratadas como incivilizadas e incapazes, o entendimento de sua comida como inacabada, transitória e primitiva significa reforçar estereótipos de que não há conhecimento construído socialmente contido nas escolhas alimentares daquele povo. A postura de quem as aponta é a de se distanciar o máximo possível do que observa, frisando as diferenças e colocando-se como representante de uma cultura que superou tais comportamentos.
(Como se houvesse algum grupo de seres humanos que optasse por passar aos seus descendentes as estratégias menos eficientes de sobrevivência e de reprodução da vida! Como se fosse possível organizar as civilizações em um infográfico que as mostre da menos para a mais evoluída!)
Talvez você, assim como eu, tenha começado a notar seus pontos cegos ao pensar e falar sobre a comida do outro mais recentemente, com o aumento de publicação de estudos decoloniais e da discussão sobre o embranquecimento de receitas de povos originários, amarelos e negros ou, ainda, em como a cultura alimentar do colonizador perpetua o racismo estrutural.
Houve o caso da Bon Appétit, em que editores não brancos tinham salários menores, desvio de função – mesmo que fossem mais experientes e especialistas que os brancos, mais bem pagos e valorizados – e eram usados em vídeos como uma amostra de diversidade racial. Em 2021, artigos e debates acadêmicos sobre identidade étnica e racial e colonização tomaram as páginas da mídia especializada; e surgiram também mais artigos para promover um debate público sobre xenofobia e preconceito alimentar.
Mas tudo isso, como você pôde conferir nos links, foi publicado em inglês. No Brasil, onde essa discussão renderia muitos frutos, temos problemas mais urgentes para enfrentar, como o enfraquecimento de políticas públicas voltadas à alimentação e o igual descaso com que o governo Bolsonaro trata a informação. Nesta entrevista com Lourence Alves é possível encontrar alguns caminhos para quebrar o feitiço do olhar viciado da branquitude.
Nós, brancos, não somos a norma. Não é a partir do que nós conhecemos do mundo que outros conhecimentos se estruturam e se diferenciam. É essa cegueira ideológica, da qual eu e (provavelmente) você, participamos e reproduzimos cotidianamente que faz com que desigualdades se perpetuem e a comida do outro seja despida de seus significados e características. Perpetua-se quando apresentamos receitas que não fazem parte da nossa história e passamos a promovê-la como "típica" ou "étnica"; perpetua-se quando fazemos piadas sobre insetos e cachorros na alimentação de povos amarelos; perpetua-se quando falamos que todas as comidas indianas têm o mesmo sabor; perpetua-se quando olhamos com condescendência para as estratégias alimentares de povos indígenas. A lista de exemplos é longa, mas acredito que consegui explicar meu ponto.
Há uma diferença abissal entre a aproximação movida pela curiosidade e a aproximação movida pelo fetiche. O ávido interesse que muitos de nós demonstramos pela comida do outro pode ser predatória e resumida em duas afirmações: ou o exótico é repugnante ou o exótico é um troféu.
Enquanto a primeira é fácil de detectar nos exemplos que enumerei acima, a segunda patina por um caminho confuso.
Nos estudos em Turismo, a promoção da cultura gastronômica local é entendida como uma forma de dar uma aura de autenticidade ao destino. Entende-se que o consumo de alimentos e produtos locais extrapola sua função fisiológica, ganhando camadas de simbolismo e funcionando como um marcador social e cultural para o turista. O turista gastronômico, portanto, é quem se vale dessa distinção com mais intensidade. Um dos autores que incluí em minha dissertação foi Kevin Fields, que apresenta quatro tipos de motivações gastronômicas para turistas: física; cultural; interpessoal; e de status e prestígio. Vou apresentar apenas as que dialogam com o tema presente, a cultural e a de status e prestígio.
A motivação da ordem cultural é o interesse pela alimentação local, entendido pelo turista como uma ferramenta e um meio para a compreensão da história, práticas e realidade daquele lugar. É como todos nós nos vemos quando viajamos: autenticamente interessados na cultura local e abertos ao diferente. Não necessariamente vamos trilhar o caminho do exótico como troféu, mas nada impede essa derrapada.
A motivação da ordem de status e de prestígio é um passo adiante, digamos, e pode ser entendido também a partir de um recorte de classe. Esse turista é movido pela descoberta do único, do raro ou de experimentar o exclusivo. Nem sempre o acesso é pelo capital financeiro – aqui, entram na roda também os capitais cultural e social. O valor simbólico se dá tanto pelo consumo quanto por ser visto consumindo. O capítulo de livro em que constam essas categorias é de 2004; hoje, com as publicações em redes sociais substituindo os encontros cara a cara, essa exibição do consumo exclusivo fica ainda mais performática.
A chance de estarmos colecionando registros de pratos e situações pitorescas como troféu, de estarmos procurando na gastronomia exótica uma experiência exclusiva e de estarmos interessados no que o outro pode nos ensinar para que possamos nos apropriar daquilo é sempre maior do que conseguimos notar.
Não tenho respostas, nem um guia de boa conduta para abordar o assunto comida do outro ou como se comportar em viagens para países cuja cultura alimentar é muito diferente da sua. Esse texto faz parte, na verdade, de um processo de autocrítica – às vezes, eu sou uma destas turistas gastronômicas de ordem cultural e de status e prestígio. Eu sou a pessoa que julga quem come sushi de garfo e faca. Era (é) a maneira que encontrei para modular meu comportamento e demonstrar curiosidade e respeito pela comida do outro enquanto jornalista de gastronomia, em vez de exercer um extrativismo informacional. É difícil acertar, mas sigo andando.
Agradeço à Jasmin Endo Tran, aluna da primeira turma do Como Escrever Sobre Comida, que aprofundou a discussão em aula e trouxe uma série de referências; e à Bia Nunes de Souza, que está sempre por dentro dos acontecimentos no mundo editorial gastronômico e que generosamente as compartilha comigo.
Duas reportagens mencionadas e linkadas neste texto foram encontradas em edições de julho das newsletters Ao Ponto, do jornalista gastronômico Rafael Tonon, e Will Write For Food, da escritora Dianne Jacob, autora do livro que leva o mesmo título.
Sugiro a leitura de uma série de quatro reportagens sobre coronavírus e o impacto da pandemia nas culturas alimentares assinadas pela minha amiga Mariana Ceccon e publicadas em abril de 2020:
Pandemia do novo coronavírus mudará a forma como nos relacionamos com a comida
Do exótico à herança cultural: os mercados de carne úmida sob condenação internacional
Coronavírus pode reduzir consumo de carne e alterar a base da dieta no mundo
Fim da glamourização: coronavírus transformará os negócios de gastronomia
NA AGENDA
Tenho dois compromissos para os próximos meses, que costumam ser parados.
Em dezembro, participo da pré-semana acadêmica de Comunicação Social da Unicentro na segunda, 6, às 9h30, falando sobre jornalismo gastronômico. É gratuito e on-line.
Em janeiro, tem um novo curso no ar, na plataforma recém-lançada da minha amiga Daiana Geremias, a Vincullum: Particularidades do Jornalismo Gastronômico. Serão dois módulos ministrados nos dias 26 e 27, das 19h às 21h, com possibilidade de comprar para ver ao vivo (R$ 240) ou a versão on demand, que é a gravação das aulas para quem não puder ver ao vivo (R$ 120).
APOIE
Se você quer apoiar meu trabalho, considere assinar esta newsletter mensalmente por R$ 10 ou anualmente por R$ 100 – há, ainda, a opção de PIX do valor que quiser pelo schiochetflavia@gmail.com. Assinantes pagos recebem desconto de 10% em todos os cursos ministrados por mim e participam de um encontro virtual mensal para discussão dos temas abordados na edição mais recente (a partir de fevereiro) e agradecimentos públicos nominais no rodapé de todas as edições da fogo baixo. Ou assine gratuitamente:
Os textos publicados sempre estarão abertos.